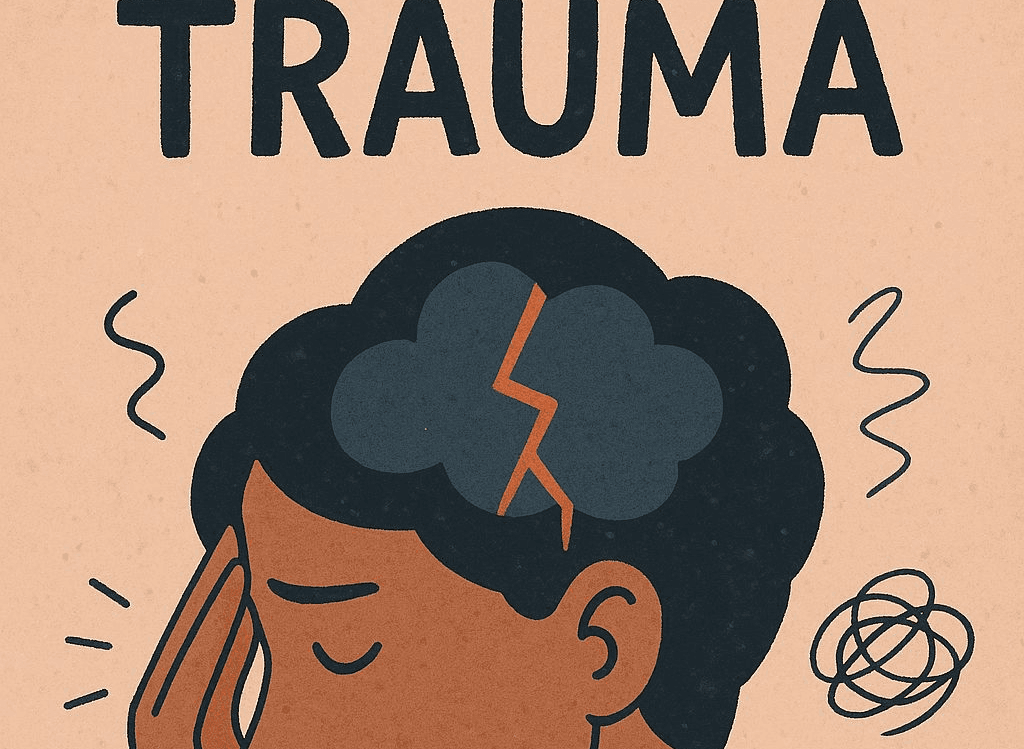
Após o feedback recebido da professora no último ciclo, referente ao trabalho que abordava a vida pós-trauma, surgiu em mim a curiosidade e o interesse de investigar de onde se origina o trauma. Essa inquietação parte do desejo de compreender se o trauma pode, por exemplo, ter uma origem familiar, isto é, se ele pode estar ligado à repetição de uma experiência vivida por outro membro da família e, de algum modo, ser reencenado pelo sujeito em sua própria vida.
Essa hipótese de que o sujeito possa, de forma inconsciente, recriar ou reviver uma situação traumática através de seus próprios anseios e angústias me conduz a retomar algumas considerações de Freud, especialmente aquelas presentes em Além do Princípio do Prazer e em A Interpretação dos Sonhos. Nesses textos, Freud discute a repetição do desprazer, o retorno do recalcado e a função do trauma como algo que excede o campo do prazer e da satisfação, revelando uma dimensão mais profunda da dor psíquica.
Diante disso, o presente trabalho tem como intuito refletir sobre o início da dor, buscando compreender o ponto em que a experiência traumática se instala no sujeito e de que forma ela pode se perpetuar através de heranças psíquicas familiares, repetições inconscientes e identificações que moldam sua relação com o sofrimento e com o desejo. Por tanto quantas vezes reproduzimos dores que são de nossos familiares, mesmo sem perceber?
O trauma aqui apresentado baseia-se no conceito formulado a partir da neurose traumática, que, segundo Laplanche e Pontalis (2001), caracteriza-se pelo surgimento de sintomas como crises de ansiedade, agitação, entorpecimento ou confusão mental. A esses sintomas somam-se, em decorrência do traumatismo, pesadelos e perturbações no sono, que representam uma tentativa repetitiva do psiquismo de ab-reagir a experiência traumática. Trata-se, portanto, de um funcionamento marcado pela repetição inconsciente, no qual o sujeito retorna compulsivamente à cena do trauma sem, contudo, conseguir elaborá-lo plenamente.
Ouvir histórias de família na infância é algo bastante comum na nossa cultura. Conhecer contos do folclore brasileiro ou grandes obras literárias faz parte do nosso imaginário. O ato de escutar histórias geralmente acontece em momentos de diversão, despertando a curiosidade e criando vínculos afetivos com os personagens, sejam eles reais ou fictícios. Ao ouvir, a criança se aproxima da narrativa como se estivesse vivendo aquilo, é um modo de se constituir no mundo simbólico. Da mesma forma, relatos de situações difíceis ou traumáticas contados por pais, avós, tios ou primos também compõem nosso aprendizado emocional. Essas histórias podem emergir em contextos de conversas íntimas, discussões familiares ou até fofocas, transformando o que antes habitava o campo da imaginação em algo concreto. Cada família carrega suas próprias narrativas: de amor, sucesso, frustração ou abandono. Algumas são compartilhadas livremente, enquanto outras permanecem escondidas, veladas por medo, vergonha ou angústia.
Pesquisas mostram que veteranos de guerra apresentam níveis reduzidos de cortisol no sangue, hormônio relacionado ao estresse, responsável por regular funções como o sono e influenciar diretamente o humor, desenvolvendo, com frequência, quadros depressivos, ansiosos e transtornos relacionados ao estresse. Esses estudos, embora inicialmente voltados ao estresse pós-traumático em contextos de guerra, ampliam-se para outras formas de trauma. Não é preciso ter combatido no front ou vivenciado campos de refugiados para estar diante de uma experiência traumática. A perda de um familiar durante a gestação ou a descoberta de uma traição em meio a um tratamento oncológico, por exemplo, são vivências que também podem gerar um trauma psíquico profundo. Muitas dessas experiências podem ter sido vividas por gerações anteriores, mãe, pai, avós e transmitidas inconscientemente, às gerações seguintes. A influência do estresse materno na gestação, por exemplo, pode alterar níveis hormonais e impactar de forma indireta o desenvolvimento emocional do bebê.
Isso quer dizer que estamos fadados aos traumas da nossa família? Significa, antes, que eles fazem parte de uma herança simbólica e, muitas vezes, biológica, uma herança que pode ser reconhecida, elaborada e ressignificada. O trabalho analítico, nesse sentido, permite que aquilo que foi transmitido como dor silenciosa possa encontrar palavras, abrindo espaço para que novas narrativas possam ser escritas. Muitas famílias, ao se depararem com situações marcadas pela dor ou pela vergonha, optam por esconder de alguns de seus membros o que realmente aconteceu. Essa atitude, muitas vezes, nasce da dificuldade de elaborar o acontecimento ou do sentimento de vergonha que ele desperta. Imagine, por exemplo, uma situação em que um familiar “desaparece” e há um histórico de envolvimento com drogas e dívidas com traficantes locais. A ausência de respostas concretas sobre esse desaparecimento provoca uma inquietação constante, e compartilhar a verdade se torna quase um ato de reviver a dor da incerteza todos os dias.
Por isso, muitas famílias escolhem silenciar ou oferecer explicações vagas e sem consistência, como forma de escapar do confronto com a realidade traumática. Anos depois, quando um novo membro, como um sobrinho, começa a apresentar problemas com drogas, instala-se novamente um clima de pânico coletivo, como se a história estivesse prestes a se repetir. Nesse contexto, o que realmente aconteceu no passado vai se tornando tão distante quanto a própria existência daquele que desapareceu.
À luz da teoria freudiana, essa dinâmica pode ser compreendida como uma manifestação da função do desprazer, ou seja, um mecanismo psíquico de evitação do retorno do objeto recalcado. Ao evitar rememorar ou simbolizar a dor do abandono desse familiar, o grupo tenta, de forma inconsciente, proteger-se do sofrimento psíquico, ainda que, paradoxalmente, permaneça aprisionado a ele. Traumas familiares podem ressurgir de maneira involuntária em diferentes pessoas da família, mesmo naqueles que têm pouca informação sobre os eventos passados.
Pensando nisso, a herança psíquica de reproduzir uma vivência, a partir de um entendimento em que não se sabe a origem do trauma, se torna algo real e inconsciente. Considerando que herdamos, tanto geneticamente quanto por processos biológicos relacionados ao cortisol, determinadas condições, repetir, além de ser um ato involuntário, também pode se configurar como algo hereditário. O sujeito, ao reviver uma experiência que não lhe pertence diretamente, pode estar, sem saber, atualizando uma dor transmitida entre gerações, uma dor que não foi simbolizada, mas que permanece viva no corpo e no inconsciente.
Entendendo isso, é possível pensar sobre como uma situação aparentemente “nova” pode ter um impacto profundo na vida psíquica de um sujeito que desconhece histórias familiares que poderiam se relacionar à sua vivência atual. Tomando como exemplo uma realidade infelizmente recorrente no Brasil, a violência doméstica é um problema social exposto há décadas. Imagine uma mulher que inicia um relacionamento com um homem que, num primeiro momento, parece ser o “príncipe encantado”. Porém, após uma crise de ciúmes, ocorre um episódio de agressão, seja física ou psicológica, seguido de promessas de arrependimento e mudança. Ela permanece no relacionamento, muitas vezes sem perceber que está revivendo, em ato, uma história de violência que atravessa gerações de sua família. Ainda que, naquele instante, não haja um insight sobre a repetição transgeracional, o impacto psíquico da violência é profundo e desestabilizador.
Como mencionado anteriormente, o trauma se instala quando há uma ruptura na barreira emocional, provocando sentimentos intensos de angústia, medo e desamparo. Quando experiências de violência estão inscritas na história familiar, o peso emocional dessa vivência tende a ser ainda maior. Nesse sentido, uma mulher com histórico familiar de violência doméstica pode encontrar mais dificuldades em romper esse ciclo do que outra que não carrega essa herança psíquica. Isso não significa que a primeira esteja “presa” ao destino familiar, mas evidencia o quanto o passado silencioso de uma família pode se manifestar no presente, influenciando escolhas, reações e modos de lidar com a dor.
Repetir torna-se uma ideia obsessiva, muitas vezes imperceptível. Assim, ao se envolver com alguém que apresenta características semelhantes às de um histórico familiar, a pessoa acaba vivendo na expectativa de uma mudança que, na verdade, não partirá do parceiro. Essa repetição pode ser, inconscientemente, uma tentativa de ressignificar a própria história, como se fosse possível modificar o passado para que as próximas gerações não precisem enfrentar as mesmas dores. Em algumas famílias, esse movimento é transmitido como uma ideia de superação da violência, mas, na prática, acaba fortalecendo o trauma e perpetuando-o ao longo das gerações.
No trauma, algo que se assemelha à neurose obsessiva é a constante perseguição dos pensamentos em torno do acontecimento vivido, como se a mente buscasse, de forma incessante, reescrever a cena na tentativa de se prevenir ou superar o ocorrido, evitando, assim, demonstrar a dimensão real da dor no presente. Entretanto, como Freud apresenta em Além do Princípio do Prazer (1920), quando trata dos sonhos traumáticos, o trauma não se configura como repetição de um desejo inconsciente, mas como uma forma angustiante e inconsciente de reviver compulsivamente a cena. Esse retorno insistente cria uma fixação no trauma, marcando o sujeito e limitando sua possibilidade de elaboração psíquica.
Antes de seus trabalhos de 1920, Freud compreendia o sonho como uma forma de realização de desejos inconscientes. Segundo ele, os sonhos expressariam, de maneira disfarçada, conteúdos recalcados que não poderiam emergir livremente na consciência por conta das barreiras morais e sociais do Eu. Assim, os sonhos representariam pensamentos e desejos considerados impróprios, que não são compartilhados abertamente com o outro. No entanto, com o avanço de seus estudos, especialmente ao analisar os casos de neurose traumática, Freud observa que, nessas situações, há uma fixação do psiquismo na experiência dolorosa, que se manifesta não apenas em pensamentos intrusivos e repetitivos, mas também em sonhos perturbadores, nos quais a cena traumática é compulsivamente revivida e não simplesmente desejada.
Repetir (ainda que em tom de brincadeira), pode ser um ato inconsciente que emerge na mente do sujeito sem que ele faça qualquer menção direta ao passado. No contexto familiar, é comum que histórias e narrativas alimentem o imaginário, criando cenários nos quais o sujeito, fora de um processo analítico, acredita não estar revivendo dores transgeracionais. No entanto, quando conseguimos reconhecer aquilo que nos incomoda, torna-se mais possível comunicar ao outro de forma mais clara. Em situações familiares, em que brincadeiras ou silêncios servem como fuga de experiências dolorosas, nomear e comunicar o que se sente pode abrir caminhos para compreender a origem de uma dor que, muitas vezes, insiste em se repetir.
Ao abordar a repetição, Freud nos convida a compreender que o trauma não é um acontecimento isolado no tempo, mas um retorno incessante de algo que não encontrou representação simbólica. É nesse retorno que o inconsciente fala, por meio de atos, sintomas, escolhas e silêncios, atualizando histórias que, muitas vezes, não foram vividas diretamente, mas herdadas de forma silenciosa e afetiva. Compreender as camadas que emergem quando se pensa no início da dor é reconhecer a profundidade e a complexidade que esse tema carrega.
Neste trabalho, foram abordados apenas dois textos de grande relevância na obra freudiana, A Interpretação dos Sonhos e Além do Princípio do Prazer, que serviram como eixo central para refletir sobre os mecanismos da repetição e o retorno do recalcado. No entanto, outras leituras também trouxeram contribuições importantes, como as que discutem o trauma do nascimento e o abandono materno, ampliando a compreensão sobre a experiência traumática desde seus primeiros registros psíquicos.
No conceito econômico, tal como formulado por Freud, o trauma é compreendido como uma frustração frente à qual o ego sofre uma injúria psíquica intensa, incapaz de ser processada simbolicamente. Diante dessa falha na elaboração, o sujeito recai em um estado de desamparo e atordoamento, no qual a experiência não simbolizada insiste em retornar, buscando, de algum modo, ser representada. É nesse ponto que a escuta analítica se torna fundamental: ao oferecer um espaço para que o não-dito encontre palavras, abre-se a possibilidade de transformar o que antes era apenas repetição em elaboração e construção de sentido. Reconhecer a origem da dor, ainda que difusa e entrelaçada a narrativas familiares, permite deslocar o sujeito de uma posição passiva diante da herança traumática. Falar, nomear, simbolizar são movimentos que rompem com o silêncio transgeracional, abrindo espaço para que novas histórias possam ser escritas e para que a dor possa deixar de ser apenas repetida e passe a ser, de algum modo, transformada.
Referências bibliograficas:
FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da Psicanálise. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
QUINODOZ, Jean-Michel. Ler Freud: Guia de leitura da obra de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2007 - reimpressão.
ZIMERMAN, David E. Fundamentos psicanalíticos: Teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: Artmed, 1999.
Acessado em 02/10/2025; https://www.scielo.br/j/rbp/a/SFBHVfm9mC7LDG53n7TTvCN/?format=html&lang=pt
Acessado em 02/10/2025; https://www.scielo.br/j/rbp/a/JPcLZQFtDX7RgfBrGnPT6qf/?format=html&lang=pt
Acessado em 01/10/2025; https://vencerocancer.org.br/saude/cortisol-alto/
Acessado em 02/10/2025; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572092/
